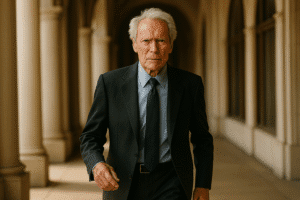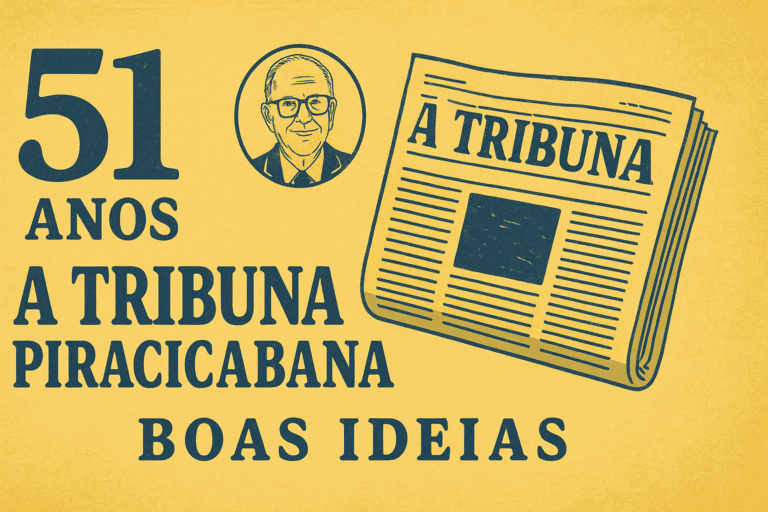Quando criança, eu aprendi que a morte era um fim. Não um fim absoluto, talvez, mas um fim daquilo que eu conhecia como eu. Na religião em que fui criado, baseada na tradição judaica, não havia reencarnação, não havia ciclos de retorno, apenas a ideia de que esta vida era a única chance de cumprir uma missão — ainda que ninguém soubesse ao certo qual era. “Os mortos não louvam a Deus”, dizia o Eclesiastes, e eu ficava imaginando se, depois do último suspiro, restaria apenas o silêncio.
Minha mãe, mulher de uma humanidade tocante, com seus erros e acertos, mas também de fé inquebrantável, costumava me consolar com histórias dos justos que, mesmo após partirem, permaneciam vivos na memória dos que ficavam. “O que importa não é o que acontece depois, mas o que fazemos aqui”, ela dizia. E, de certa forma, isso me confortava. Mas também me inquietava. Se esta era a única vida, como garantir que eu não a desperdiçaria? O que fazer para não passar incólume por essa existência?
Anos mais tarde, já adulto, afastei-me da religião de minha família. Não por revolta, mas por uma necessidade quase física de buscar respostas que fossem além daquelas que eu havia recebido de herança. Foi então que descobri outras formas de entender a existência — e, entre elas, a ideia de que a vida poderia ser um contínuo, uma espiral de aprendizados. Conheci o espiritismo, li a respeito das religiões de matriz africana, me interessei sobre os místicos cristãos. E, no meio desse caminho, encontrei figuras como Divaldo Franco e João Paulo II, que me mostraram algo mais profundo do que dogmas: a força do amor em ação.
Divaldo, que nos deixou nesta semana, homem de voz suave e sorriso tranquilo, dedicou mais de setenta anos a cuidar de crianças abandonadas, a palestrar pelo mundo, a consolar os que sofriam — sem jamais cobrar nada em troca. Ele acreditava na reencarnação, na comunicação com os espíritos, em tudo aquilo que minha infância religiosa rejeitara. Mas o que me impressionava não era sua fé, e sim o que ele fazia com ela. Ele não pregava para converter; ele agia para aliviar. E, no fim das contas, isso era mais importante do que qualquer teoria sobre o além.
João Paulo II, por sua vez, foi um homem que carregou sobre os ombros o peso de uma instituição milenar, mas nunca deixou que ela o afastasse da simplicidade do amor ao próximo. Visitou prisões, abraçou doentes, pediu perdão pelos erros da Igreja. E, quando sofreu o atentado que quase o matou, seu primeiro gesto foi perdoar. Não importava se ele acreditava em céu, inferno ou purgatório — importava que ele vivia como se cada dia fosse uma chance de ser melhor.
Esses dois homens, de tradições tão distintas, me ensinaram algo que nenhuma doutrina, por si só, havia conseguido: a espiritualidade não está na certeza do que vem depois, mas na forma como vivemos o agora.
Hoje, acredito que evoluí significativamente em minhas crenças e visão do mundo. Talvez, essa afirmação, nos ouvidos dos meus gurus da infância soe como idiotice, autopromoção. Talvez eu ainda carregue dentro de mim aquele menino que temia o silêncio após a morte. Mas também carrego a convicção de que, seja esta a única vida ou apenas uma de muitas, o que fazemos nela é o que realmente importa. Divaldo Franco não será lembrado apenas por suas palestras sobre o espírito imortal, mas pelos milhares de crianças que ele ajudou a ter um futuro. João Paulo II não ficará na história apenas por seus discursos teológicos, mas pelos gestos concretos de compaixão.
E eu? Bem, eu sigo tentando. Aprendi que a evolução não é uma escada que sobe reta, mas um caminho cheio de voltas, recuos e novos começos. Às vezes, ainda me pego pensando naquela velha dúvida da infância: Será que esta vida é suficiente? Mas então lembro que, no judaísmo, há um conceito chamado Tikkun Olam — “consertar o mundo”. E ele não exige que acreditemos em vidas passadas ou futuras, apenas que façamos o bem no tempo que nos é dado. No fim, talvez a grande sabedoria seja entender que a vida não nos pede para decifrar seus mistérios, mas para vivê-la com dignidade. Divaldo Franco partiu, João Paulo II partiu, minha mãe partiu. Mas o que eles deixaram aqui ainda pulsa, ainda ensina, ainda transforma. E isso, por si só, já é uma forma de eternidade.
Então, enquanto respiro, enquanto posso, escolho acreditar que cada dia é uma página em branco — e que, mesmo sem saber quantas páginas restam, o importante é escrever uma história que valha a pena ser lida.
Esta publicação também está disponível no jornal A Tribuna, na edição do dia 21/05/2025, na página A2. Você pode acessar a versão em PDF pelo link: A Tribuna – Edição 13648.